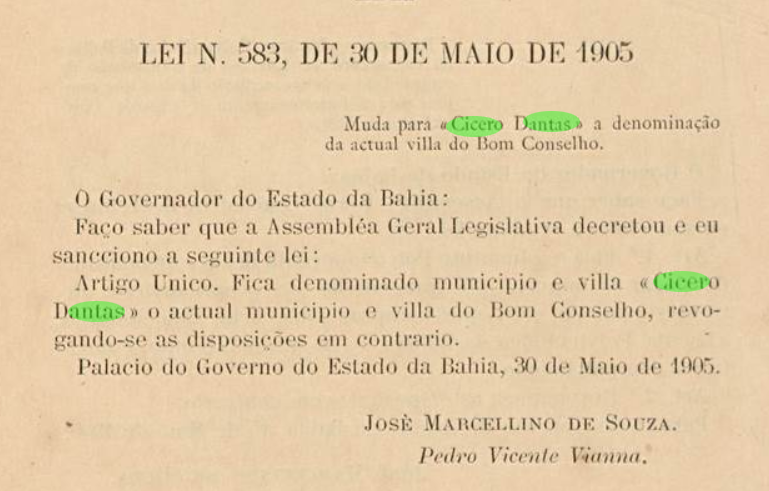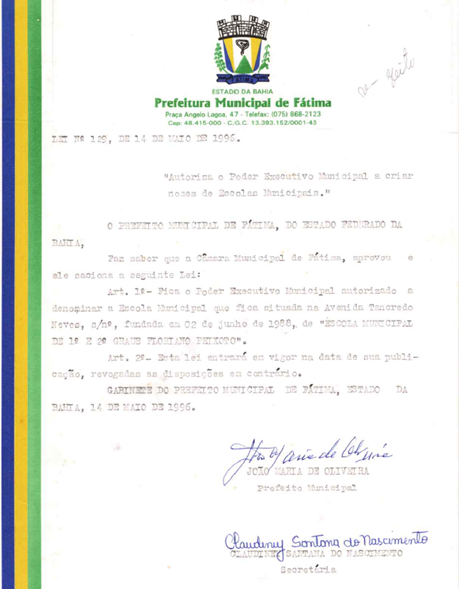NAÇÃO e SÍTIO, águas que testemunharam
o princípio de Fátima.
Após a carta régia de 1701 que
direcionou a criação de gado para o sertão, as primeiras estradas (caminhos do
boi) começaram a ser abertas, eram veredas que serviam para o transporte do
gado que engordava no sertão e era conduzido para o abastecimento dos mercados
de carne no litoral.
Como não havia tecnologia para
refrigeração, as únicas formas de fazer com que a carne chegasse aos locais de
consumo no litoral era a produção da carne seca ou a condução dos animais vivos
até os locais de abate, sendo essa segunda técnica utilizada em larga escala.
Quem conhece o sertão, sabe que nessa
zona existem apenas duas estações, uma seca e outra chuvosa. Essa
peculiaridade climática, obrigava o sertanejo a construir estruturas
rudimentares para preservar a preciosa água que fluía nas enxurradas durante o
período chuvoso.
Inicialmente eram estrutura simples,
construídas informal e coletivamente. Próximos a córregos temporários ou mesmo a
olhos d’água naturais, construíam pequenas barragens de pedras, valas cavadas
de forma rústicas, estruturas que pudessem reter a água no período mais seco do
ano.
Essas pequenas barragens eram
construídas em locais estratégicos, posicionadas a algumas léguas de distância
uma da outra ao longo do caminho. Inicialmente, como dito, eram estruturas de
uso comum, mas sem intervenção estatal. Isso mudou a partir da grande seca de
1877 a 1879, esse período de estiagem foi um marco histórico, suas
consequências avassaladoras levaram o Estado Imperial a buscar intervir com
planejamento de segurança hídrica.
É após essa grande seca que as antigas
barragens já projetadas pela mente intrépida do sertanejo recebem investimento
público e melhorias para que pudessem armazenar ainda mais água e garantir o
precioso líquido às grandes boiadas e ao ser humano. Por serem construídas pelo
Estado, ficaram conhecidos como TANQUES DA NAÇÃO.
Esses locais eram utilizados como
pontos de paragem para boiadeiros e demais viajantes e no seu entorno foi-se
formando lugarejos com pequena população habitando casas simples, cobertas de
palha que, ao longo dos anos, vão se multiplicando e sendo aperfeiçoadas.
Em Fátima, ainda existe até os
dias de hoje um exemplar raro de uma obra pública muito antiga, a “Nação” e o
“Sítio” são obras remanescentes desse período. Inicialmente deve ter sido uma
estrutura simples, provavelmente construída por mão-de-obra escravizada, que
foi sendo ampliada aproveitando o antigo córrego que outrora corria por onde
hoje é a zona urbana do município.
Não se sabe a data exata,
mas é certo que essa aguada recebeu investimentos em melhorias, foi ampliada e
por muitos anos matou a sede de seres humanos e animais, abasteceu as obras de
muitas das antigas casas aqui construídas e foi palco do trabalho árduo de
sofridas senhoras que ali se juntavam para lavar suas roupas até os anos 1980.
Antes da perfuração do
poço e da construção da Bomba em 1954, essas duas represas eram a principal
fonte de abastecimento de água de Fátima, ficando às margens da Estrada Real,
virou ponto de parada dos antigos viajantes, boiadeiros e tropeiros acampavam
em suas margens, faziam suas refeições e eventualmente passavam a noite para
seguir viagem no dia seguinte. Com o tempo, muitos utilizavam a casa do senhor Chico
André como pensão, esses últimos, testemunhas da evolução do antigo povoado que
viria a ser a Fátima que habitamos.
Após a carta régia de 1701 que
direcionou a criação de gado para o sertão, as primeiras estradas (caminhos do
boi) começaram a ser abertas, eram veredas que serviam para o transporte do
gado que engordava no sertão e era conduzido para o abastecimento dos mercados
de carne no litoral.
Como não havia tecnologia para
refrigeração, as únicas formas de fazer com que a carne chegasse aos locais de
consumo no litoral era a produção da carne seca ou a condução dos animais vivos
até os locais de abate, sendo essa segunda técnica utilizada em larga escala.
Quem conhece o sertão, sabe que nessa
zona existem apenas duas estações, uma seca e outra chuvosa. Essa
peculiaridade climática, obrigava o sertanejo a construir estruturas
rudimentares para preservar a preciosa água que fluía nas enxurradas durante o
período chuvoso.
Inicialmente eram estrutura simples, construídas
informal e coletivamente. Próximos a córregos temporários ou mesmo a olhos d’água
naturais, construíam pequenas barragens de pedras, valas cavadas de forma
rústicas, estruturas que pudessem reter a água no período mais seco do ano.
Essas pequenas barragens eram
construídas em locais estratégicos, posicionadas a algumas léguas de distância
uma da outra ao longo do caminho. Inicialmente, como dito, eram estruturas de
uso comum, mas sem intervenção estatal. Isso mudou a partir da grande seca de
1877 a 1879, esse período de estiagem foi um marco histórico, suas consequências
avassaladoras levaram o Estado Imperial a buscar intervir com planejamento de
segurança hídrica.
É após essa grande seca que as antigas
barragens já projetadas pela mente intrépida do sertanejo recebem investimento
público e melhorias para que pudessem armazenar ainda mais água e garantir o
precioso líquido às grandes boiadas e ao ser humano. Por serem construídas pelo
Estado, ficaram conhecidos como TANQUES DA NAÇÃO.
Esses locais eram utilizados como pontos
de paragem para boiadeiros e demais viajantes e no seu entorno foi-se formando
lugarejos com pequena população habitando casas simples, cobertas de palha que,
ao longo dos anos, vão se multiplicando e sendo aperfeiçoadas.
Em Fátima, ainda existe até os
dias de hoje um exemplar raro de uma obra pública muito antiga, a “Nação” e o “Sítio”
são obras remanescentes desse período. Inicialmente deve ter sido uma estrutura
simples, provavelmente construída por mão-de-obra escravizada, que foi sendo
ampliada aproveitando o antigo córrego que outrora corria por onde hoje é a
zona urbana do município.
Não se sabe a data exata,
mas é certo que essa aguada recebeu investimentos em melhorias, foi ampliada e
por muitos anos matou a sede de seres humanos e animais, abasteceu as obras de
muitas das antigas casas aqui construídas e foi palco do trabalho árduo de sofridas
senhoras que ali se juntavam para lavar suas roupas até os anos 1980.
Antes da perfuração do
poço e da construção da Bomba em 1954, essas duas represas eram a principal
fonte de abastecimento de água de Fátima, ficando às margens da Estrada Real,
virou ponto de parada dos antigos viajantes, boiadeiros e tropeiros acampavam
em suas margens, faziam suas refeições e eventualmente passavam a noite para
seguir viagem no dia seguinte. Com o tempo, muitos utilizavam a casa do senhor Né
André como pensão, esses últimos, testemunhas da evolução do antigo povoado que
viria a ser a Fátima que habitamos.